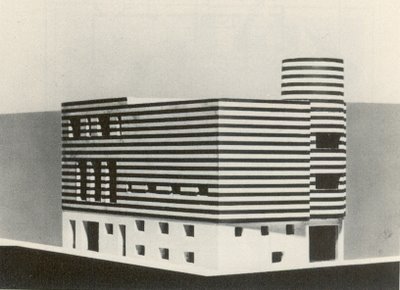O concerto
Fantástico! Excelente! Brutal! Espectacular! Excepcional! Único! Lindo! Fenomenal!
"Yes!"
"Yes!"
Como o próprio Erlend gritava de entusiasmo no fim de uma de tantas músicas... lindíssimas! (Sem palavras!). Mais precisamente no fim do refrão que nos havia pedido para cantar: "The sun sets on the war, the day breaks and everything is new..." E "new" prolongava-se eternamente nas nossas vozes...
O concerto dos Kings of Convenience foi, é, será sempre imemorável. Eterno. Como tudo o que cantam. A suspeita confirmou-se. Erlend, ou "o Erlender," como o Bicho ainda eufórico, no final do concerto, já se referia a Erlend, é um tipo divertidíssimo, um grande maluco. Literalmente. Aliás, ele não é grande, é enorme! Altíssimo e o seu metro e muito e muito é loucura pura. Soube-se mal se sentou para cantar as primeiras canções. À terceira, continuavam a chegar pessoas e Erlend ia colocando-as a par: "já cantámos três canções; esta, portanto, é a quarta... o ambiente é tranquilo..." As gargalhas foram gerais. Por esta altura, Erlend continuava sentado, mas não tardou a levantar-se. Erlend tem qualquer coisa nos seus pés que o faz dançar de forma desconjuntada. Mas nunca perde o estilo inconfundível. Não são só os enormes óculos que caracterizam esse seu ar cómico e engraçado de boneco animado (de Snoopy, diz a Susana L.), é, também, a sua forma de dançar. De se arrastar pelo palco em rodopios e malabarismos das suas pernas enormes e do tronco ora meio curvado ora hirto, por entre o movimento dos braços a balançar e do som dos dedos a estalar de encontro ao ritmo. De "getting into the swing... getting into the swing... getting into the swing... "
A primeira grande surpresa aconteceu quando Erlend sai, subitamente, do palco e se junta às pessoas que estavam a assistir ao concerto nas primeiras filas (por ora já ninguém duvidava que estivesse a assistir a um concerto fora do comum, aliás, já todos sabíamos que não estávamos a assistir a concerto algum). Erlend ia ouvir o seu amigo Eirik a cantar. Espanto geral. Aos primeiros acordes, desatámos todos a rir. A sorrir. Eirik cantava de forma esforçada, mas incrivelmente doce, quase naïf, uma das mais conhecidas músicas brasileiras. Desatámos todos a ajudá-lo, enquanto Erlend se movia pelas doutorais, para se juntar novamente a Eirik, e terminar a música em suprema beleza, simulando um maravilhoso trompete. Novamente: todos a rir! Eirik, tão divertido e sempre extremamente oportuno, revelava-nos a nossa simultânea descoberta: ele estava a cantar uma letra em português, cujo sentido não compreendia (eu adorei a forma como pronunciou "felicidade" e mesmo depois da aula da Molder, do que ela nos disse sobre Etty Hillesum, que não devíamos pronunciar, nem utilizar as palavras "felicidade," "Deus," "amor," entre outras, porque os seus significados tinham sido fixados e já nada diziam sobre as palavras, eu adorei ouvir Eirik cantar "felicidade"), porque a tradução inglesa, haviam-lhe dito, era mais uma interpretação do que uma tradução e, por último, que Erlend era o campeão mundial de trompete bocal. Os risos foram constantes durante todo o concerto (aceitemos a palavra, porque não existe nem palavra, nem definição no dicionário para "concerto de Kings of Convenience"). E, por vezes, elevavam-se e tornavam-se na própria música. Ao contrário das palmas e do estalar dos dedos. Houve, logo no início, uma dificuldade em se coordenar o bater palmas e o estalar dos dedos. Erlend preferia claramente a última versão. E dava o tom. E o ritmo.
Por entre as canções, Erlend e Eirik iam pondo-nos a par de algumas das suas ideias sobre a vida. Ideias muito simples, muito claras. Não são essas as ideias de Uma vida? Dizia-nos Erlend que, das vezes que tinha vindo a Lisboa e estado junto ao rio, se tinha apercebido e desgostado com a existência de uma fronteira entre o porto e o rio. O que o aborrecia imenso, pelo que acontece o mesmo na sua terra natal, Bergen. Haviam estragado, completamente, o único e último sítio perfeito para uma pessoa se enamorar!
Contra todas as fronteiras, todas as divisões, todos os limites, Erlend dirigiu-se aos seguranças e pediu para que todos os que quisessem ir para o palco dançar com ele, o pudessem fazer. Saltámos das cadeiras, irrompemos pela sala, desatámos a correr, nisto, a música já se fazia ouvir, Erlend já dançava... e nós no palco como numa qualquer pista de dança! A dançar, a saltar!
A primeira grande surpresa aconteceu quando Erlend sai, subitamente, do palco e se junta às pessoas que estavam a assistir ao concerto nas primeiras filas (por ora já ninguém duvidava que estivesse a assistir a um concerto fora do comum, aliás, já todos sabíamos que não estávamos a assistir a concerto algum). Erlend ia ouvir o seu amigo Eirik a cantar. Espanto geral. Aos primeiros acordes, desatámos todos a rir. A sorrir. Eirik cantava de forma esforçada, mas incrivelmente doce, quase naïf, uma das mais conhecidas músicas brasileiras. Desatámos todos a ajudá-lo, enquanto Erlend se movia pelas doutorais, para se juntar novamente a Eirik, e terminar a música em suprema beleza, simulando um maravilhoso trompete. Novamente: todos a rir! Eirik, tão divertido e sempre extremamente oportuno, revelava-nos a nossa simultânea descoberta: ele estava a cantar uma letra em português, cujo sentido não compreendia (eu adorei a forma como pronunciou "felicidade" e mesmo depois da aula da Molder, do que ela nos disse sobre Etty Hillesum, que não devíamos pronunciar, nem utilizar as palavras "felicidade," "Deus," "amor," entre outras, porque os seus significados tinham sido fixados e já nada diziam sobre as palavras, eu adorei ouvir Eirik cantar "felicidade"), porque a tradução inglesa, haviam-lhe dito, era mais uma interpretação do que uma tradução e, por último, que Erlend era o campeão mundial de trompete bocal. Os risos foram constantes durante todo o concerto (aceitemos a palavra, porque não existe nem palavra, nem definição no dicionário para "concerto de Kings of Convenience"). E, por vezes, elevavam-se e tornavam-se na própria música. Ao contrário das palmas e do estalar dos dedos. Houve, logo no início, uma dificuldade em se coordenar o bater palmas e o estalar dos dedos. Erlend preferia claramente a última versão. E dava o tom. E o ritmo.
Por entre as canções, Erlend e Eirik iam pondo-nos a par de algumas das suas ideias sobre a vida. Ideias muito simples, muito claras. Não são essas as ideias de Uma vida? Dizia-nos Erlend que, das vezes que tinha vindo a Lisboa e estado junto ao rio, se tinha apercebido e desgostado com a existência de uma fronteira entre o porto e o rio. O que o aborrecia imenso, pelo que acontece o mesmo na sua terra natal, Bergen. Haviam estragado, completamente, o único e último sítio perfeito para uma pessoa se enamorar!
Contra todas as fronteiras, todas as divisões, todos os limites, Erlend dirigiu-se aos seguranças e pediu para que todos os que quisessem ir para o palco dançar com ele, o pudessem fazer. Saltámos das cadeiras, irrompemos pela sala, desatámos a correr, nisto, a música já se fazia ouvir, Erlend já dançava... e nós no palco como numa qualquer pista de dança! A dançar, a saltar!
I'd rather dance with you than talk with you
So why don't we just move into the other room
There's space for us to shake, and hey, I like this tune
Even if I could hear what you say
I doubt my reply would be interesting for you to hear
Because I haven't read a single book all year
And the only film I saw, I didn't like it at all
So why don't we just move into the other room
There's space for us to shake, and hey, I like this tune
Even if I could hear what you say
I doubt my reply would be interesting for you to hear
Because I haven't read a single book all year
And the only film I saw, I didn't like it at all
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
The music's too loud and the noise from the crowd
Increases the chance of misinterpretation
So let your hips do the talking
I'll make you laugh by acting like the guy who sings
And you'll make me smile by really getting into the swing
Increases the chance of misinterpretation
So let your hips do the talking
I'll make you laugh by acting like the guy who sings
And you'll make me smile by really getting into the swing
Getting into the swing, getting into the swing
Getting into the swing, getting into the swing
Getting into the swing, getting into the swing
Getting into the swing, getting into the swing
Getting into the swing, getting into the swing
Getting into the swing, getting into the swing
Getting into the swing, getting into the swing
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance with you
I'd rather dance with you
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you
I'd rather dance with you
I'd rather dance with you
No fim, regressei ao meu lugar, alguns ficaram pelo palco, sentados no chão. Aquele momento devia permanecer assim: único na sua espontaneidade, no silêncio paradoxal de um instante abrupto, sem interferência alguma de um antes ou de um depois. E assim se despediram Erlend e Eirik da Aula Magna.